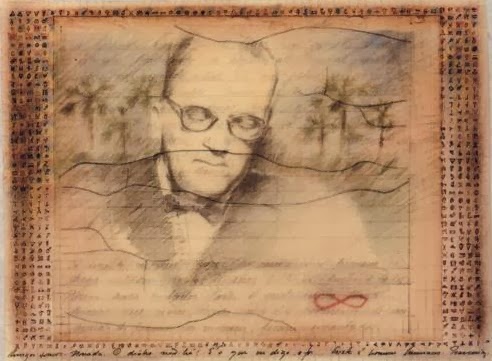EliseuVisconti
...Pablo
Picasso, Salvador Dalí, Van Gogh, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt ou
Claude Monet, lembre-se de qualquer pintor famoso e provavelmente você pensará em suas obras mais conhecidas ou como elas teriam
influenciado a época em que o artista viveu. Foi por isso que o Metropolitan
Museum of Art, de Nova York disponibilizou 375 livros sobre arte, incluindo
estudos críticos e grandes bibliografias, para download gratuito. As obras
foram publicadas entre 1964 e 2012 e cobrem todo o período da história da arte.
Para facilitar, o MET consegue categorizar a sua busca por titulo, autor,
palavra-chave, tipo de publicação, tema e até formato. Aproveite e faça o
download do seu artista favorito enquanto dá tempo. Link: http://goo.gl/yVKtPW
Carlos Sepúlveda
Certa feita, indagado por que
seu romance era tão difícil de ler, Guimarães Rosa respondeu que apenas chamava
as coisas pelo nome.
De outra
vez, questionado acerca da mesma dificuldade de leitura, Rosa argumentou que
seu romance não era para ser lido, mas sim para ser declamado, como um epos
grego.
Nestas duas
anedotas, já parte do folclore sobre um autor que Carlos Drummond de Andrade
certa vez perguntou se existia de se pegar, pode se esconder uma face
importante da explicação deste extraordinário romance, um dos livros mais belos
jamais escritos na língua de Camões.
Se prestarmos
um pouco mais de atenção ao que foi dito, vamos notar que, de um lado, existe a
nomeação que é, afinal de contas, por onde se conduz toda e qualquer arte de
contar, uma vez que narrar, contar, ficcionar constituem um artifício de
realidade, um fingimento, um fazer de contas. É a nomeação que nos conduz como
leitores, no sentido de levar para o outro lado, para além dos vínculos do
cotidiano, da finitude burocrática de nosso horizonte corriqueiro e imediato.
Afinal, o leitor só existe porque o real é pouco e pobre, em face da
facticidade obrigatória do viver.
Assim,
chamar as coisas pelo nome é uma forma de possuí-las, é reintegrá-las em outro
universo de significação, fazendo nascer outros vínculos, surpreendentes e
inovadores, desterritorializando-nos ao apelo comum do mundo e das coisas, das
palavras e as coisas.
Nomear é
instaurar mundos. É o poder babélico do mundo a ser desmoronado ou o poder do
clarão de pentecostes para um mundo a ser fundado. Os limites do mundo são
os limites de minha linguagem, recitaria o inexplicável Ludwig
Wittigenstein.
Esta é,
talvez, a grandeza primeira e imediatamente compreensível nesta obra magistral.
Retornarei a este ponto mais adiante.
A segunda
réplica aponta para a oralidade.
Ao
reivindicar o aspecto declamatório de seu discurso, GR busca recuperar a
discursividade, no sentido de aproximar o mundo narrado de uma fala do outro
para o outro da fala. Com isto, desfazer o nó logocêntrico que manteve cativo
um número considerável de narradores, sobretudo durante o período romântico,
que se caracterizou pela formação das grandes narrativas.
Com isto
quero dizer que Guimarães Rosa parte da ruptura moderna em torno a todo saber
teórico, isto é, o saber presidido por uma relação de identidades entre a
tradição e a autoridade que são as formas clássicas de transmissão do saber. O
acento na oralidade significa a opção pelo pragmatismo, pelo senso-comum, a meu
juízo o elemento fundamental, a base mesma do argumento desta estória
monumental. Voltarei a este ponto mais adiante e com mais detalhes.
Por
enquanto, vale lembrar o modo como o autor introduz seu enredo.
Na cena
comunicativa de Grande Sertão: veredas, estabelece-se a figura de dois
personagens apenas: Riobaldo e seu ouvinte ilustre, um doutor da grande cidade
que passou, acidentalmente, pela propriedade do jagunço aposentado e lá
permaneceu por três dias. Assim, simples e direto, sem grandes rodeios, o que
há é uma prosa mineira, em busca de um consenso em que nenhum dos dois
interlocutores dispõem do monopólio da verdade, por isso mesmo trata-se de um
espaço de convivência radicalmente aberto, livre, emancipatório.
Mas, qual o
tema da conversação? Nada menos do que a travessia, isto é, o nonada da vida, a
vida nonada, este intrigante e indecifrável estar-no-mundo.
Pretendo
com estas observações preliminares estabelecer meu modo de compreensão desta
obra ímpar em nossa literatura, deste texto surpreendente, esperando desta
generosa audiência que lhe faça justiça com uma visita ou uma re-visita. Não
creio que um brasileiro que se suponha culto, no sentido acadêmico da palavra,
possa dispensar esta leitura.
Resumindo,
pois, minha hipótese de trabalho: admito três aspectos estruturais, de início:
a) nomeação, isto é, os vínculos
estabelecidos entre o nome e a coisa, no romance, como uma espécie de função
encantatória da linguagem e que promove uma espetacular ruptura nos clássicos
modelos de verossimilhança. É o que acontece sob a rubrica do maravilhoso e do
fantástico na palavra SERTÃO. Nada do que o narrador conta existe antes ou
depois do ato de nomear. Tudo só existe enquanto na emergência do que está
dito, no exato momento em que escutamos, como um acontecimento fundador. O
resto é silêncio, ou melhor: o resto é nonada.
b)A oralidade, isto é, o revolucionário
estatuto do narrador-Riobaldo, abrindo um abismo entre o narrar enquanto saber
centrado e concentracionário e o narrar-com, verdade que se constrói ao lado
de, sem exclusões. Narrar como se vida fosse, mas vida enquanto totalidade do
vivido, incluindo os interditos, a falta, os fracassos, porque, como na palavra
poética de Cecília Meirelles, a vida só é possível reinventada.
Diadorim, Dia-dorim, é a metáfora deste transitar transgressor.
c) O senso-comum, isto é, a mathesis ou, se
preferirmos, a matéria mesma que faz deste romance um dos mais competentes
acervos da sabedoria do jagunço ( quer dizer:do simples) que nos conduz a uma
dimensão transcendental, para além de todo particularismo, abrindo uma nova
percepção do regionalismo. É esse verdadeiro tratado universal do senso-comum
que nos possibilita recolher, neste particularismo ontológico, a dimensão do
eterno, do tesouro comum da humanidade. É por este caminho que nosso Guimarães
Rosa é um iluminista radical, sobretudo no sentido da liberdade. É também por
este trajeto que sua narrativa é moderna, no sentido de recolher o eterno
daquilo que é efêmero, transitório, cotidiano. É aí, na transcendência do
familiar que o senso-comum se constitui em discurso literário.
Espero,
pois, conduzindo estes três aspectos em permanente diálogo, complexo como
convém a uma obra desta importância, chegar a uma interpretação crítica deste
romance excepcional em nossa produção contemporânea.
Nas edições
de Grande sertão:veredas pela editora José Olímpio, há um apêndice em
que se reproduz a nota escrita pelo autor e na qual se lê o seguinte:
Aos
leitores, e aos que escreverem sobre este livro, pode-se não revelar a
seqüência de seu enredo, a fim de não privarem os demais do prazer da
descoberta de Grande sertão: veredas.
Peço
licença, pois, ao velho e querido e encantado Rosa para não obedecer o seu
pedido, uma vez que seria impossível falar desse romance na suposição de que
todos tivessem lido. Não parto desta hipótese.
É
necessário, portanto, adiantar alguns aspectos e revelar o enredo, para que se
possam entender as considerações que se seguem.
Trata-se,
na verdade, de uma estória até certo ponto, singela, muito simples em sua
superfície, como aliás são todas as estórias complexas e geniais. A
complexidade, porém, se desvenda à medida em que o enredo vai-se desdobrando
enquanto cifra da memória do narrador-personagem.
Riobaldo
Tatarana, o Reinaldo, o Urutu Branco, é um jagunço em retiro na sua
propriedade. Velho em busca da sabedoria, espelhada no compadre Quelemém, ele é
um depósito inesgotável de memórias e de reflexões luminosas sobre a
existência, sobre a vida e sobre a morte, sobre as coisas, o estar-no-mundo.
Com seu compadre, Quelemém, kardecista, trava longas discussões sobre a
transcendência, sobre os mistérios de viver e morrer, Deus e o diabo.
Este velho
jagunço em preparação para a morte recebe, por três dias e três noites, a
visita de um homem da cidade, isto é, de um citadino, supostamente cosmopolita
e culto, no sentido elitista do termo, um doutor, que se dispõe, aparentemente com
boa vontade, a ouvi-lo. Não há, em nenhum momento da narrativa, a fala
explícita desse ouvinte, apenas, no discurso de Riobaldo ou através dele, é que
se supõe a fala do outro.
De um ponto
de vista estrutural, trata-se de um deslocamento da grafocracia para a escuta,
a oralidade, pois é um longo monólogo em que o narrador e seu ouvinte
atravessam, pelo viés da memória do primeiro, as trilhas e veredas imaginárias
do Grande Sertão.
Vamos nós
também, intrusos nesta prosa, com um terceiro ouvido, seus leitores, a partir
da primeira palavra dessa grande fala ( nonada) viajando juntos, como
ouvintes do ouvinte, intrusos, como dissemos, onde não fomos chamados, que
ouvimos atrás da porta uma conversa de dois.
Mas o que
nos seduz nesta interminável conversação e que nos leva a querer saber qual seu
desenrolar – o seu novelo – são os conflitos entre a vida vivida pelo narrador
e sua interpretação depois do vivido: isto é, a essência mesma daquilo que o
narrar é, o porquê precisamos contar, da originalidade de todo ato de
ficcionar: o verossímil.
Para dar
sustentação a este jogo, Guimarães Rosa, com sua diabólica sensibilidade e
sutileza, introduz Diadorim, certamente ao lado de Capitu os dois
mais intrigantes enigmas de nossa literatura romanesca, ambas emulações de uma
fina ambigüidade.
Pois bem, é
isto e nada mais. Acontece porém que esta aparente redução acaba se
desenrolando ao longo de 500 páginas, num jogo de extraordinária humildade, de
sedução, encantamento e lucidez, porque narrar é também um certo sabor de
saber.
Haja leitor
para tanta obra prima!
Cumpre-se
aqui o preceito da poética de Aristóteles segundo a qual a verdade poética é
superior – enquanto dizer essencial – à verdade histórica. Acho mesmo que não
exagero se disser que Grande Sertão:Veredas é, de certo modo, um elogio
da verdade poética, como o elogio da loucura de Erasmo também o é. Um elogio da
inesgotável possibilidade de falar o homem naquilo que ele tem de universal,
transcendente e, sobretudo, provisório.
É este
aspecto que gostaria de enfatizar neste momento.
Não
pretendo dizer com isto que a verdade poética e a verdade histórica sejam
territórios autônomos e que se podem estabelecer hierarquias imperiais entre
uma coisa e outra, não se trata disto. Pretendo que haja uma verdade
essencialmente vivida pelo homem, como experiência única, para além de todo
particularismo, de toda convenção e que vale para além de sua precária
temporalidade e finitude e que isto não anula o fato de que viver é
circunstância, que o sujeito é sempre situado. O que imagino, e que Grande
Sertão:Veredas me permite fazer entender, é que na condição de ser
histórico e situado, falado em suas inscrições na sociedade, na história, no
desejo, Riobaldo é a metáfora do homem onde há este mistério, com o qual está
condenado a viver: a vontade de transcendência, de ir-além e para além do Bem e
do Mal. Só o homem pode viver a experiência da verdade como revelação. Ao
contrário dos outros animais que se ocupam das coisas, o homem se pré-ocupa com
as coisas.
Podemos
talvez chamar a isto liberdade, no sentido sartriano do termo, na ânsia
de tornar-se livre, autônomo, face-a-face com seu advento. Portanto, estou
falando de uma antropologia metafísica mas também de uma ontologia fundamental
e enquanto achamos que esta possibilidade existe, acontecemos humanos,
repetindo as palavras do Professor Manuel Antonio de Castro em suas análises
heideggerianas desse romance.
Mas humano
é uma coisa que somos ou em que nos tornamos? É uma construção, uma
determinação, uma invenção?
Eis o
mistério de todo Saber, pois só nos reconhecemos humanos porque incompletos na
busca dessa comunhão essencial: o Ser é transitório, transitivo e travessia.
Voltemos
agora ao primeiro aspecto que mencionei nesta conferência: a nomeação.
O romance é
um poema, no sentido de que se move no reino das metáforas e das palavras que
precisam ser deslocadas de seu acervo semântico habitual e condicionado.
Justifica aquela assertiva de Fernando Pessoa quando diz que em prosa é
difícil de se outrar. Trata-se pois de um exemplo perfeito do que, no seu
clássico ensaio, Roman Jakobson denomina função poética da linguagem.
Diadorim é
um duplo, uma travessia, uma revelação feita a Riobaldo na outra margem do rio
e que vai fasciná-lo a vida inteira com seu misterioso poder de sedução. A ele
e a nós, leitores enveredados, surpreendidos que somos por aquilo para que o
autor pediu silêncio.
Lembro que
o primeiro encontro de Riobaldo e Diadorim acontece justamente nas margens do
rio, na terceira margem do rio.
Diadorim é
uma mulher, chama-se Maria Deodorina da Fé Bettancourt Marins, que nasceu
para guerrear e nunca ter medo, e mais para muito amar, sem gozo de amor.Diadorim
vai seguir o pai e depois vingar-lhe a morte. Transveste-se de homem e vive,
com Riobaldo, todas a dimensões de um amor ambíguo, no possível impossível do
desejo não realizado, enquanto peleja a vingança, por Joca Ramiro.
É neste
conflito que o autor joga toda a essencialização e todo o engenho de seu narrar
intertextual, tanto que, se este aspecto fosse eventualmente excluído da
narrativa, simplesmente não haveria narrativa a se cumprir, como obra de arte
superior e incomparável, como é superior, este texto magistral. Por que é lá,
no fundamento desta ambigüidade, no lugar desse desejo, que se realiza a força
do não dito, que se desvela, no fim, no dizer fundamental:
Sendo isto.
Ao dôido, doideras digo. Mas o senhor é homem sobrevindo, sensato, fiel como
papel, o senhor me ouve, pensa e repensa, e rediz, então me ajuda. Assim, é
como conto. Antes conto as coisas que formaram passado para mim com mais
pertença. Vou lhe falar. Lhe falo do sertão. Do que não sei. Um grande sertão!
Não sei. Ninguém ainda não sabe. Só umas raríssimas pessoas – e só essas poucas
veredas, veredazinhas. O que muito lhe agradeço é a sua fineza de atenção. (79)
Este outro
para quem Riobaldo conta suas aventuras no Grande Sertão e de quem se espera
alguma decifração é parte do enigma. Não pode ser descartado mas também não
dispõe de razão suficiente para mergulhar no enigma do mundo do Ser do Sertão.
Sua razão é desse mundo e a razão de Riobaldo não está nas coisas, mas no que
se esconde por detrás delas, ele quer o avesso, a sobrecoisa, porque o outro
não se deixa eliminar, subsiste, persiste; é o osso duro de roer, lá onde a
razão perde os dentes ( Antonio Machado)
Falo por
palavras tortas. Conto minha vida, que não entendi. O senhor é homem muito
ladino, de instruída sensatez. Mas não se avexe, não queira chuva em mês de
agosto. Já conto, já venho – falar no assunto que o senhor está de mim esperando.
E escute. (370)
Voltemos
agora ao primeiro aspecto do que lhes falei em minha interpretação: a nomeação.
O romance é
um poema, no sentido de que se move no reino das palavras que precisam ser
deslocadas de seu acervo semântico habitual. Trata-se, pois, do que no seu já
clássico ensaio Roman Jakobson denomina função poética da linguagem.
A função
poética projeta o princípio de equivalência do eixo de seleção sobre o eixo de
combinação
Isto
significa, em última análise, uma desautomatização do signo, isto é, uma
relação diferente entre o liame significado-significante, abolindo os
referentes condicionados na e pela experiência do cotidiano e, mais ainda, a
autonomia do dizer que não tem mais a obrigação de restringir-se aos
referenciais imediatamente reconhecíveis. Ao contrário, o privilégio na
equivalência da combinação ( sintagmas) sobre a seleção ( paradigmas) liberta o
sentido e desobriga a lógica deste mesmo sentido, por isso a alogicidade é uma
das marcas mais importantes do lirismo.
Assim é que
no dizer poético reside a possibilidade de recolher a experiência do
fundamento, aquilo em que nos tornamos enquanto ser-aí e que só a linguagem
pode revelar, porque somente ela, a linguagem, sabe mais do que nós.
A nomeação
poética é como fundar outro idioma dentro de nossa própria língua, por isso
existe a língua portuguesa, sistema lingüístico comum aos falantes, e a língua
de Guimarães Rosa. Daí que ler Rosa é como exercitar uma tradução.
O que
pretendeu o autor com esta nomeação fundamental? Que vínculos se estabeleceram
a partir das novas possibilidades de significação entre o nome e a coisa,
experiência historicizada pela geração de 1945? Que leitura foi esta que
os modernismos de 22 e 30 fizeram e que levou muitos críticos, como José
Guilherme Merquior, a chamar a geração de 45 de falência da poesia ou uma
geração enganada e enganosa?
Estou, é
claro, levantando alguns problemas que este romance suscitou quando de sua
publicação em maio de 1956.
Sobre este
último aspecto, é preciso que se esclareça o fato de que a palavra poética,
conduzida como um retorno a uma certa sofisticação, não estava de todo ausente
do programa modernista. O que houve foi um certo exagero nas posições radicais
da geração combativa de 22 e que se expandiram, especialmente no sentido de uma
aproximação com o discurso cotidiano, na língua coloquial. Deste último
aspecto, Guimarães Rosa utilizou-se plenamente: GS:V é pura oralidade.
Não que o coloquialismo
seja um dialeto menos ou mais poético, não é esta a questão. Mas é que há
sempre o risco de, sob a rubrica do coloquial, cair-se na banalização pura e
simples do discurso de comunicação de massa e com isto perder-se o vigor
essencial da nomeação poética que é, sobretudo, uma busca do sentido
mais profundo ( puro) para as palavras da tribo, portanto menos visíveis nas
falas habituais. O que não quer dizer que não se possa, a partir destes
dialéticos, encontrar o fundamento do dizer essencial. Mas aí é outra coisa…
Guimarães
Rosa fez algo de genial neste romance. Tomando o coloquialismo do jagunço, sua
fala social e sertaneja, por ele recriada, conseguiu um tal nível de
expressividade poética que a conduziu até ao lugar privilegiado da verdade por
excelência, isto é, criou um novo idioma, que é uma forma de verossimilhança
radical, no sentido de que, quem cria linguagens, produz mundos. Do mesmo modo,
por exemplo, Cervantes fez com o espanhol pouco refinado que usou, no século
XVII; que Kafka fez com o alemão de Praga, enquanto língua menor, no dizer de
Deleuze e Guattari.
Depois
deste romance, podemos dizer que há uma língua portuguesa, que é uma coisa, e a
língua portuguesa de Guimarães Rosa, que é outra, sem deixar de ser a mesma.
Pois é este
novo liame entre o nome e a coisa a mais radical possibilidade de dizer a
diferença, de transformar o silêncio em expressão poética, num trabalho de
Sísifo capaz de tornar dizível o indizível.
É neste
sentido que a obra de GS, à semelhança dos grandes gênios da literatura é uma
metaliteratura.
Eis aonde a
nomeação nos conduz.
Complementarmente
a esta característica, segue-se a oralidade.
O narrador
supõe um ouvinte ilustrado para o qual conta sua vida, como Scherezade conta
suas estórias para um Califa entediado e predestinado. Esta figuração é
propriamente um epos, uma épica, conduzindo, pois, à estrutura do épico.
Se
buscarmos com cuidado, vamos notar que lá estão as marcas clássicas de um
discurso épico: o narrador, o desenrolar progressivo da matéria narrada, a
autonomia das partes, a articulação entre o real e o maravilhoso, o plano
histórico confluindo com o mítico, as intertextualidades, etc…
Quem
pretender pesquisar nesta linha, como fazem alguns pesquisadores brasileiros,
com notável competência, terá aí material para muito trabalho.
Do ponto de
vista que escolhi, no entanto, imagino articular esta oralidade mais no sentido
de um diálogo intertextual com os narradores modernos ( e eventualmente
pós-modernos), em especial aqueles narradores que se descentram de suas
certezas e narram, como no caso de Machado de Assis, seus fracassos também,
isto é, narram suas trajetórias. Porque a vida é trajetória e nela cabem todos
os eventos que nos afetam.
É aí que a
condição épica clássica se despe de suas marcas genéricas, fato que o professor
Anazildo Vasconcellos da Silva analisa muito bem em seus textos sobre o modelo
épico moderno.
Seguindo
seu ponto de vista, com o qual concordo inteiramente, o narrador épico moderno
( no caso, Riobaldo) não pode narrar senão suas perdas, até porque a imagem do
mundo que ele elabora se perde na impossibilidade de confrontá-la com a ordem
do real, em razão do caráter fragmentário imprimido pela técnica moderna ao
mundo familiar. É a dissolução do mundo contemporâneo que Weber denominou Entzauberung,
algo como desencantamento.
Este
descentramento encontra uma espécie de apoio tático no ouvinte, para quem
Riobaldo desenrola sua vida. É neste contar, miudamente, que ele pode – como
Brás Cubas, Bentinho, Aires, em Machado de Assis – recompor seu viver,
semelhantemente ao que sucede na metáfora das Mil e uma noites, onde
Scherezade encontra no narrar a possibilidade de não ser morta pela Califa de
Bagdá. Ela se salvou porque sabia contar estórias. Riobaldo quer atravessar seu
rio-baldo, onde a água se torna rasa e ele pode fazer sua travessia, ou melhor,
sua baldeação.
Cumpre-se
então a identidade entre o narrar e o viver. A oralidade é seu ritual, seu
gesto, sua instituição.
Neste jogo
entre dizer e escutar, mil segredos se confundem até que o narrador se recolha
no humano, seu enigma e desafio, dolorosamente marcado em sua alma com o ferro
e o fogo de uma perda irreparável.
Cerro. O
senhor vê. Contei tudo. Agora estou aqui, quase barranqueiro. Para velhice vou,
com ordem e trabalho. Sei de mim? Cumpro. O Rio de São Francisco – que de tão
grande se comparece – parece um pau grosso, em pé, enorme… Amável o senhor me
ouviu, minha idéia confirmou: que Diabo não existe. Pois não? O senhor é um
homem soberano, circunspecto. Amigos somos. Nonada. O diabo não há! É o que
digo, se for… Existe é homem humano. Travessia.
∞ (460)
O infinito
que encerra a grafia do texto é o símbolo matemático remetendo a um tempo
mágico e circular, ao Mistério do nada. Não exatamente o infinito, porque já
seria um lugar determinado, mas ao não-finito, ao indeterminado do que
não tem fim. A temporalidade negada pelo signo é, antes de tudo, negada
enquanto linearidade, racionalidade previsível.
Nosso
terceiro e último ponto é o que se refere à mathesis, isto é, à matéria
mesma com que o autor elabora sua poiesis e sua semeiosis. Mais
explicitamente: uma narrativa – qualquer narrativa – é uma re-elaboração do
material disponível, por meio da verossimilhança que, por sua vez, articula,
invariavelmente, quatro elementos- a retórica, a sociedade, o estilo e a
representação.
Estes
elementos transitam como linguagem que nos conduz, nos remete, para o outro
lado – a metáfora – em que se transmigra toda e qualquer estória.
Assim,
pois, Guimarães Rosa utiliza, como elemento funcional de seu romance, o senso-comum,
isto é, o acervo de um saber original, e originário, simplesmente, no que é
imediato. Esta aparente pobreza é, na realidade, o maior tesouro desta
extraordinária obra de arte.
Gostaria de
enfatizar este ponto.
Trata-se de
um tema caro ao cristianismo, portanto, à herança do saber ocidental, a partir
dos Gregos. Trata-se de ver, na indigência e na simplicidade do mundo em redor,
no despojamento, na kenosis paulina, a possibilidade de um encontro com o Ser,
com a iluminação, com a verdade revelada, sem a autoridade do adequatio res
ad intelectum, porque significa superar todo saber codificado,
institucionalizado, transformado em disciplina e em poderes, portanto um saber
organizado e patrimonializado que se encolhe e se perde na impossibilidade de
falar o que é humano, porque confinado nos limites de uma lógica formal.
Trata-se do
encontro da coisidade das coisas, aritotelicamente proposto e que parte do
progressivo despojamento do que está demais, dos excessos, da hybris,
para encontrar a substantia do essencial. Alguém já se perguntou porque
os grandes iluminados da humanidade, esses homens superiores, sempre nascem na
pobreza, no despojamento?
Heidegger
no seu Sobre o humanismo, em competente tradução de Emanuel Carneiro
Leão, copila o seguinte encantamento:
De
Heráclito se contam umas palavras, ditas por ele a um grupo de estranhos que
desejavam visitá-lo. Ao aproximarem-se, viram-no aquecendo-se junto ao forno.
Detiveram-se surpresos, sobretudo porque Heráclito ainda os encorajou – a eles
que hesitavam - fazendo-os entrar com as palavras: pois também aqui deuses
estão presentes. ( 86)